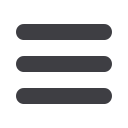

S92
Artigo Original
manter e até mesmo aprofundar situações de iniquidades so-
ciais, com seus inevitáveis reflexos sobre a saúde.Além de um
gasto público que está significativamente em desacordo com
o próprio sentido de existir de um sistema público de saúde,
o país adota um sistema tributário altamente regressivo, que
privilegia a taxação sobre o consumo, em lugar daquela sobre
renda e riqueza – o que acentua as desigualdades antes mes-
mo da alocação dos recursos, como bem lembra Sónia Fleury
(5). Portanto, antes de se gritar pelo necessário aumento no
gasto público em saúde, é preciso perguntar quem efetiva-
mente contribui para o orçamento público.
A situação é ainda mais agravada pelo facto de que a preten-
dida descentralização da saúde, ancorada em marcos legais,
não se tem feito acompanhar por equivalente contrapartida
financeira dos três entes federados. Entre 2000 e 2011, os
estados e municípios mais que triplicaram o volume de re-
cursos destinados para a saúde (6). Nesse mesmo período,
a União (i.e. o governo federal do Brasil) aumentou o gasto
em ações e serviços públicos de saúde em cerca de 75%, em
relação a 2000. Assim, dois terços do aumento dos recursos
para as ações e serviços públicos de saúde naquele período
foram provenientes das receitas próprias de estados e muni-
cípios, enquanto somente um terço foi oriundo dos recursos
injetados pela União. Contudo, mesmo com esses aumentos,
em 2009 o gasto público em saúde encontrava-se em torno
de 3,8% do Produto Interno Bruto (Instituto Brasileiro de
Geografia de Estatística-IBGE, 2012), percentual muito infe-
rior àquele aplicado por outros países que possuem sistemas
universais de saúde (7).
No período de 2009 a 2012, o gasto total em relação ao PIB
cresceu no Brasil, passando de 8,8% para 9,3% e diminuiu
em Portugal de 10,8% para 9,4%. Enquanto isso, gasto pú-
blico em relação ao gasto total cresceu no Brasil de 43,6%
para 46,4% e diminui em Portugal de 66, 5% para 62,6% so-
bre os gastos totais, segundo dados do Banco Mundial citados
por Castro e Cortes (8).
O valor do gasto total em saúde com relação ao PIB indi-
ca que o Brasil encontra-se bem próximo à média do que se
passa nos países desenvolvidos, portanto num nível de gastos
considerado adequado. Contudo, quando se examina o per-
centual do gasto público em saúde, verifica-se que ele é mui-
to baixo e incapaz de garantir que a norma constitucional se
materialize na prática social, de modo a cumprir o princípio
da universalidade do SUS.
Os gastos públicos em saúde em nosso país são muito bai-
xos, quando comparados aos de outros países em dólares
americanos com paridade de poder de compra. O gasto
total em saúde é de 1.009 dólares, mas o gasto público
per capita em saúde é de apenas 474 (menos de 50%).
Esse valor não somente é muito inferior aos valores prati-
cados em países desenvolvidos, mas é inferior também ao
de países da América Latina como Argentina, US$ 851,00;
Chile, US$ 620,00; Costa Rica, US$ 825,00; Panamá, US$
853,00; e Uruguai, US$ 740,00. A razão para esse baixo
gasto público em saúde no Brasil está no facto de que os
gastos em saúde correspondem a 10,7% dos gastos do or-
çamento total dos governos, um valor muito abaixo do pra-
ticado em âmbito internacional, em países desenvolvidos e
em desenvolvimento (9).
Estudos demonstram que a materialidade da política de saúde
no Brasil pode ser vista a partir do comportamento dos gastos
em saúde, observando-se um alinhamento de política, no que
se refere ao financiamento, nos governos Fernando Henri-
que Cardoso e Lula, e a mesma tendência no governo Dilma.
No âmbito federal, os governos do Partido dosTrabalhadores
(PT) não diferiram dos governos do Partido da Social Demo-
cracia Brasileira (PSDB). O perfil dos gastos em saúde não
conseguiu atender aos ditames do sonho da reforma sanitária
dos anos 1980. Implantado, em grande medida, do ponto de
vista legal, não se materializou do ponto de vista prático. Os
números revelam e explicam, em parte, as dificuldades e ten-
sões do SUS (10).
2.2. A estratégia adotada, os resultados
alcançados e os desafios a superar
Ao se analisar a trajetória do SUS, percebe-se um parado-
xo interessante, bem assinalado por Flores e cols. (11): o
facto de que a década de 1990, com a política neoliberal
do governo Collor, produziu profundas dificuldades para
a consolidação do Sistema Único de Saúde no Brasil e foi,
entretanto, nesse contexto, que surgiu a família como lo-
cus ideal e estratégico de enfrentamento da crise da saúde,
aliando-se ao ideário político da promoção da saúde e da
consolidação da saúde como direito universal.
Assim é que surge o Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS) em 1991, quando o Ministério da Saúde ins-
titucionalizou as práticas que, isoladamente, já vinham acon-
tecendo em diversas regiões do país (12). A ele seguiu-se o
Programa de Saúde da Família (PSF), que viria a ser criado
em 1994, ambos com duas importantes inovações: o enfoque
sobre a família, e não mais sobre a saúde individual, e o aspeto
integrador com a comunidade, fugindo assim de um modelo
médico-hegemónico. Assim, alguns aspetos adquiriram rele-
vância para a implantação do PACS: a escolha do agente comu-
nitário de saúde e as condições institucionais de gestão local,
envolvendo a mobilização da comunidade, processo seletivo,
capacitação e avaliação; a formação dos conselhos de saúde; o
grau de autonomia financeira, o capital humano disponível e a
capacidade instalada das recém-nascidas secretarias municipais
de saúde. É, pois, lícito afirmar que o PACS foi um importante
braço auxiliar na implementação do SUS e na organização dos
sistemas locais de saúde, dando dimensão de realidade concre-
ta ao direito universal à saúde.
Todavia, seriam necessários mais de dez anos para que o Minis-
tério da Saúde do Brasil, pela Portaria 648 de 28 de março de
2006, passasse a reconhecer o PSF como uma estratégia priori-
tária para organizar a atenção primária à saúde (APS), que tem
como um de seus fundamentos principais possibilitar o acesso
Opinião


















