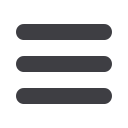

90
Introdução
Para os europeus, a lepra “encaixava-se” na representação
de doença tropical [1], reconhecida como a doença do
“outro”. As descobertas marítimas, o comércio, as guer-
ras, a escravatura e a emigração, contribuíram em muito
para a sua difusão. A doença do espaço colonial ameaçava
tornar-se doença do espaço metropolitano. O trânsito de
pessoas, medeava o trânsito de novas ameaças – a amea-
ça
da doença. A lepra foi disseminada pelo "continente
negro" através das diferentes comunicações estabelecidas
entre os diferentes povos.
Em 1901 o colonialista Eduardo Costa lamentava "(...)
não [haver] em qualquer das nossas colónias um hospi-
tal de leprosos... ora a lepra, a elephantiasis, corroe e
gangrena grande número de raças negras." [2] O go-
vernador da colónia, Carvalho Viegas, salientava que a
lepra era o principal problema de saúde na Guiné a se-
guir às Boubas e ao Paludismo, registando-se em 1944,
340 casos de lepra e um acréscimo, entre 1942 e 1944,
de aproximadamente 50%, num universo de 350.000
habitantes [3].
Também a metrópole se debatia com o flagelo da lepra.
Só em setembro de 1947, foi materializado o combate da
doença, aquando da inauguração da Leprosaria de Rovis-
co Pais, ambicioso projeto higienista do Estado-Novo. À
semelhança do que acontecia na metrópole, tentou-se de-
belar a lepra nas colónias, instituindo as medidas julgadas
necessárias para uma boa profilaxia e combate da doen-
ça. Na base das campanhas, estavam os meios adotados na
metrópole, bem como:
(...) outras disposições condicionadas por uma menta-
lidade diferente por parte dos habitantes, pertencentes
às raças mais diversas, com os seus costumes, as suas
crenças, os seus fetiches e tabus, alguns deles ainda ar-
reigados às práticas fetichistas, condicionando todos os
atos importantes da sua vida pela consulta do feiticeiro
da tribo, e estando além disso, uma grande parte, afas-
tados da civilização e vivendo duma maneira primitiva
[4].
A estratégia de terapêutica e profilaxia no espaço colo-
nial, utiliza como referência a estratégia biopolítica de
medicina social da metrópole. Todas as atividades foram
orientadas pela Direção dos Serviços de Saúde do Minis-
tério do Ultramar e chefiadas por médicos com prepara-
ção no Hospital Rovisco Pais e no Instituto de Medicina
Tropical de Lisboa [5]. A profilaxia anti-lepra assentava
essencialmente na inscrição dos doentes, no diagnóstico
precoce, no isolamento dos contagiosos e no seu trata-
mento. Os elementos profiláticos preconizados eram a
leprosaria, o dispensário com as brigadas móveis e o pre-
ventório [4].
Da aldeia de leprosos
ao Hospital do Mal de Hansen
A lepra representava um problema social e económico na
vida da colónia, na medida em que deformava, debilitava e
incapacitava o corpo do “outro”. Uma tese apresentada no
Congresso Comemorativo do V Centenário do Descobri-
mento da Guiné (CCVCDG) Carlos Barral Moniz Tavares,
salienta o valor da mão-de-obra indígena como um valor a
conservar:
As colónias não podem prescindir da mão-de-obra indí-
gena. Para que dela se possa usufruir o maior proveito
é necessário que as populações indígenas possuam boa
capacidade para o trabalho e, portanto, se lhe propor-
cionem boas condições de higiene individual e geral.
(...) A Guiné é uma colónia essencialmente de natureza
agrícola, e, como tal, necessita de uma população nativa
numerosa, pois é nela que se recrutará a indispensável
mão-de-obra. Para que haja uma população indígena su-
ficiente tem de se procurar atingir dois fins primordiais:
diminuir a mortalidade e aumentar a natalidade [6].
Em proporção, a Guiné era a colónia com maior núme-
ro de casos de lepra, "o que podia acarretar uma quebra
da vitalidade do povo, conduzindo a uma incapacidade dos
indígenas com perda da sua função social e da sua capaci-
dade de trabalho, resultando daí prejuízo para eles e para
a Nação [7]. Está bem patente o pendor biopolítico da au-
toridade colonial no controlo das pestilências, epidemias,
dos agentes infeciosos e da população. As possibilidades
de se conhecer a doença, as condições da sua etiologia e
desenvolvimento, tal como as condições propícias à sua
evolução, surgem na medida da “
economia
” do corpo [8].
Importava prestar, “aos indígenas uma assistência médica
cuidadosa e continuada, tratando-os convenientemente
quando doentes, isolando-os quando se trate de doença in-
fecto contagiosa, proporcionando-lhes os meios de melho-
rar e robustecer a raça" [9] .
Em inícios da década de 1950, chegavam à metrópole in-
formações de médicos a trabalhar na Guiné, que apontavam
no sentido da lepra tender a "... aumentar entre as popula-
ções nativas com graves riscos para o futuro" [10]. Este facto,
conduziu o Ministro do Ultramar a emitir um despacho para
organização de uma Missão que tinha por objetivo avaliar a
extensão da endemia, estudar os focos de lepra existentes e
a sua distribuição, bem como estabelecer as bases para o seu
combate. Salazar Leite, professor do Instituto de Medicina
Tropical, chefiou a Missão de Combate à Lepra na província
portuguesa da Guiné [11] observando num vasto inquérito
de amostragem, 94.389 “indígenas”, cerca de 20% da popu-
lação dita “não-civilizada”, considerou a incidência da doença
como alarmante, ao apurar a taxa de 25,73% [11]. Comen-
tava então, o Prof. Salazar Leite, em 1952:
Doenças, agentes patogénicos, atores, instituições e visões da medicina tropical


















