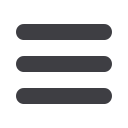

96
Em Bissau poucas pessoas
compravam vinho ou alimen-
tos que fossem levados da
zona de Cumura com medo
do contágio, com medo que
os alimentos tivessem sido
preparados por algum doente
e dessa forma transmitisse a
doença (E.6). Graças ao avan-
ço da terapêutica (dapsona
depois a poliquimioterapia),
a lepra tornou-se, das doenças
infecciosas, a menos conta-
giosa e perfeitamente tratá-
vel. Retiraram-lhe ao mesmo
tempo grande parte da carga
estigmatizante o que garantiu a mudança de atitudes em
relação aos doentes. Um ponto de viragem no modo de
olhar e entender o lugar
de Cumura foi o conflito iniciado
em junho 1998. Nesse tempo Bissau estava sob fogo cerrado,
entre as forças de Nino Vieira e de Ansumané Mané, sendo
a população obrigada a fugir em todas as direções, encon-
trando refúgio nas tabancas do interior ou, mais próximo de
Bissau, nas missões católicas que abriram as suas portas. Foi
o caso da missão e hospital de Cumura [20].
A Cumura chegam doentes encaminhados por curandeiros
tradicionais, fruto do reconhecimento e investimento, do
programa de combate da lepra junto deles. Procura-se en-
volver os curandeiros na vigilância e despistagem da doença,
em especial nas regiões com maior incidência da doença.
Outros doentes chegam ao Hospital do Mal de Hansen, por
orientação de antigos doentes aí internados (E.6).
Cumura emerge como ponto de confluência de múltiplas
biografias na diversidade do
puzzle
social e cultural da Gui-
né-Bissau e países vizinhos. É um espaço aberto aos diversos
grupos etno-linguisticos, como os felupes, fulas, mandin-
gas, balantas, mancanhas, beafadas, pepéis, manjacos entre
outros. Olhando os doentes, vislumbram-se amarrados ao
pescoço ou à cintura, amuletos protetores da sua religião
e decerto que alguns, entre uma toma e outra do antibió-
tico, fazem uma cerimónia tradicional perto do hospital
ou tomam o mézinho que algum curandeiro da sua tabanca
mandou, para ajudar a potenciar o efeito da poliquimiote-
rapia. Os doentes internados, mais velhos, com notórias e
graves deformações, são doentes do tempo colonial, quando
a medicação não era tão eficaz quanto a poliquimioterapia
de hoje. Hoje, o internamento em Cumura é pelas lesões
resultantes da lepra.
Muitos partiram há muito das tabancas de origem fixando-
-se, depois da alta, nas proximidades do hospital. Pessoas
que a doença fez alterar a própria identidade levando-os a
recusar o retorno a casa, à sua comunidade.Aqui estão perto
dos cuidados, da vigilância e proteção hospitalar e da missão.
Para muitos foi a forma de fugir ao abandono e exclusão que
seriam alvo se regressassem a
casa com as deformidades e
limitações. Moram na tabanca
de Cumura
2
e “todos os dias
de manhã, o mercado é ani-
mado com muitos vendedo-
res que são ex-leprosos e que
aí vivem. Alguns fazem uma
banca e vendem as suas mer-
cadorias porque não têm pos-
sibilidade de ir para trabalhar
na bolanha, plantando ou co-
lhendo o arroz” (E.6). Hoje,
o amplo espaço onde outrora
dominava a lepra, está ocupa-
do pelas “novas lepras”, a SIDA
e a tuberculose. Dum tempo colonial com uma doença a
confinar, vive-se hoje num tempo global, com outras várias
a combater e controlar. Perguntamos no local: lepra ou mal
de Hansen? Qual o nome mais “justo”?
Hansen. Não vale a pena ir mais longe. Dizer a palavra
lepra, bate no coração, é um choque. Lepra é um nome que
toda a gente conhece e que toda a gente tem medo. Dizer
frontalmente ‘você tem lepra’, é uma dor, é um terror, é
uma ferida que se abre... mesmo sem responder, a pessoa
sente-se muito mal. Ouvir dizer Hansen, é um nome mais
leve (E.4).
Outros vivem na aldeia dos ex-doentes que, de certo modo,
representa um lugar mais “desenvolvido” e é um sítio melhor
para viver que as tabancas, ou mesmo Bissau.Tem eletricidade,
apoio médico, água potável, alimentos.
Aqui vivem doentes com deformidades bem visíveis que cada
um tenta contornar só ou com o auxílio do vizinho, mais ca-
paz. No microcosmos da aldeia, está patente um sentimento
de entreajuda e complementaridade na deformidade. Há uma
descontinuidade nas deformações. Quem não pode caminhar,
orienta quem não vê. Quem não vê empurra a cadeira de ro-
das de quem vê e orienta. Quem não anda pode cozinhar para
quem não tem mãos. Podemos dizer que a aldeia é o espaço no
qual cada corpo encaixa numa normalidade. Este é o espaço da
normalidade, do regular, da constância na deformidade.Aqui, o
normal é estar disforme, limitado, incapacitado, dando expres-
são que “a anomalia e a mutação não são em si mesmas patoló-
gicas. Elas exprimem outras formas de vida possíveis” [33].
A aldeia vive com o apoio do hospital e da missão católica, “o
óleo, o arroz, o sabão, calçado e vestuário (...) A missão apoia
a aldeia e mais de cem ex-doentes que vivem integrados na ta-
banca de Cumura” (E.3). A lepra é o facto que une todas estas
pessoas. Quando têm os seus desentendimentos, recordam que
não podem escapar uns aos outros. Enquanto há vida, tentam
torná-la tão boa quanto podem, é o propósito de cada um nes-
te universo. Estar confinado na aldeia, representa para muitos
Fig. 6:
Pormenor da entrada do Hospital, em Cumura (foto do autor, 2010)
Doenças, agentes patogénicos, atores, instituições e visões da medicina tropical


















