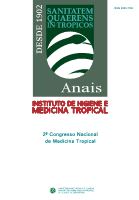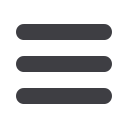
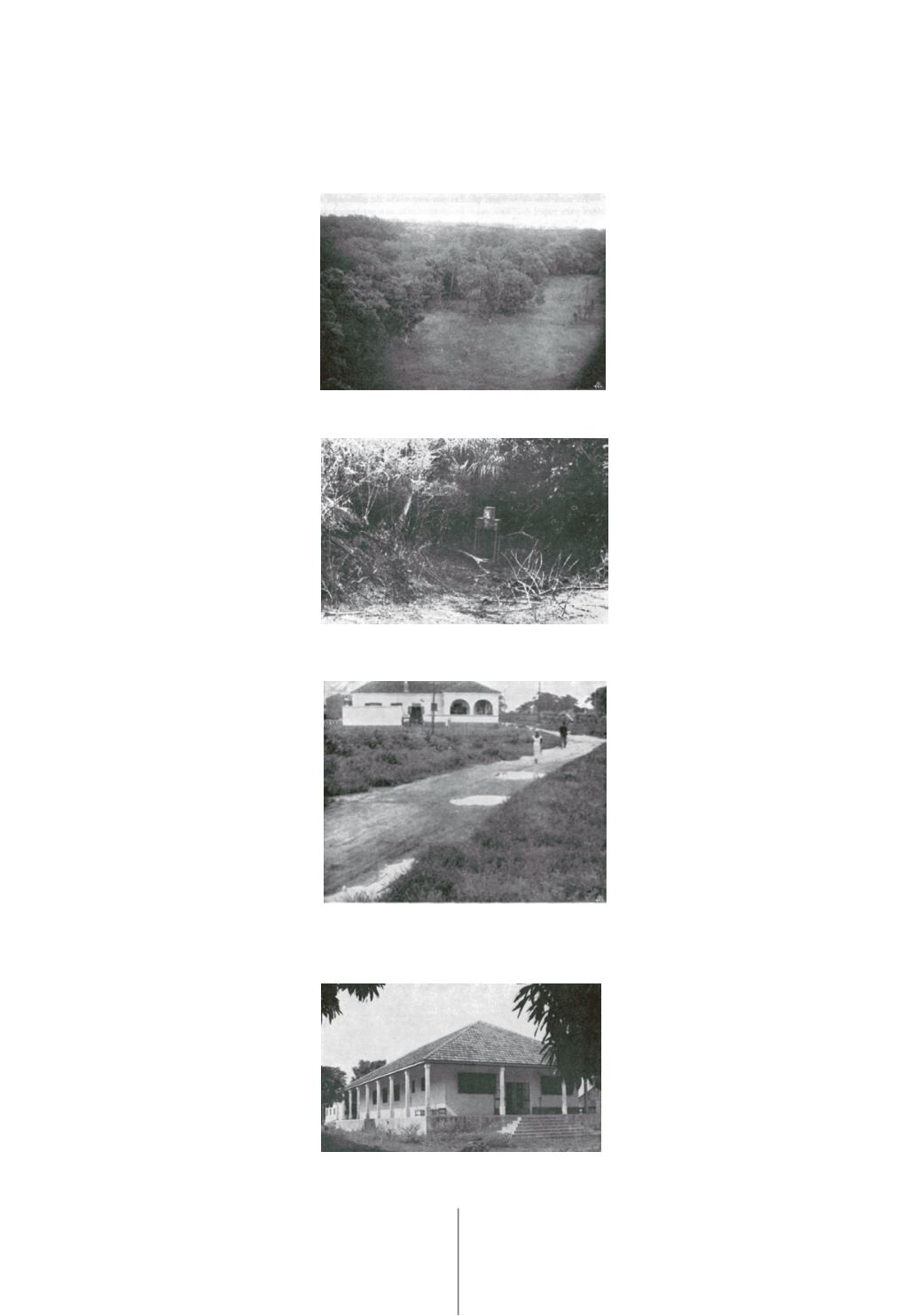
36
nia, assume importância a fotografia da Paisagem como tra-
dutora visual do real. Retratar o território nas suas diferentes
feições, incluindo a sua geografia e topografia, dando-se
conta do relevo da paisagem, da hidrografia, da fauna
e da flora locais. O espaço africa-
no, um espaço perigoso, um espaço
de doença e de morte, para onde
os europeus não queriam emigrar
[37].
Ver e conhecer o trópico (mesmo
em papel) era necessário para po-
der compreender o imperativo de
agir no combate à doença, exal-
tando ao mesmo tempo a figura e
função da medicina colonial que era
exercida, enfrentando as adversida-
des do clima e da paisagem. Por ou-
tro lado, fica patente a ideia de uma
natureza intacta, inexplorada, ro-
mântica, exótica, disponível para a
intervenção de quem a olha, na me-
dida que a Medicina está presente
para enfrentar e confinar a doença,
favorecendo a “potencial vinda” de
colonos. Se por um lado, a fotogra-
fia revela o espaço da doença, por
outro, mostra a medicalização dessa
paisagem e vulgarizava as potencia-
lidades da paisagem entre a popula-
ção da metrópole (cf. Figura 3 e 4).
Progresso
Por vezes, o único rasgo de civili-
zação presente, é uma estrada, mas
também as pequenas edificações de
projecto colonial, captadas pela ob-
jectiva dos fotógrafos, conferia um
“ar de civilização” à paisagem. Sinais
da modernidade que serviam de
máscara ao estado inóspito e virgem
da paisagem.
A civilização domestica a paisagem.
Mais tarde, o olhar do fotógrafo,
leva-o a captar traços do progres-
so, traços da presença e afirmação
colonial no território. A construção
de casas, estradas, centros de saúde,
postos de administração colonial,
infra-estruturas de ciência e edu-
cação, contam-se entre os aspectos
que assinalam a presença e inter-
venção portuguesa na colónia (cf.
Figura 5 e 6).
A ocupação colonial também foi
uma ocupação simbólica do espaço. Os nomes portugue-
ses eram atribuídos a espaços locais. Sintomas de uma
“vida civilizada” que emerge. É o espaço do coloniza-
dor e, como tal, um espaço cuja linguagem visual ele
quer privilegiar [37]. As fotogra-
fias também fixam momentos que
deixam transparecer o “suposto”
sucesso da missão civilizadora,
como tradução do progresso civi-
lizacional como as que captam as
populações nativas que recorrem
às consultas e aos tratamentos nos
serviços da “missão do sono”, em
detrimento de irem à medicina
tradicional.
Nós...
Daqui decorre a importância de
focar o Europeu no exercício da
sua missão dedicada, enfrentando
as adversidades e contactando com
doenças estranhas. Divulgadas em
Portugal, estas imagens seriam
interpretadas como reveladoras
do interesse português nas coló-
nias, do efectivo desempenho na
missão civilizadora e da ocupação
efectiva, em nome do progresso,
da civilização e modernidade.
O colono aparece como agente
do bem, iluminando com as suas
vestes brancas as sombras da pai-
sagem africana. De início a repre-
sentação do colono foi meramente
decorativa. Fotografado em plano
de fundo, mas progressivamente
parece ter havido preocupação de
conferir contornos mais definidos
à sua figura, aproximando a objec-
tiva da câmara fotográfica. A ocu-
pação efectiva do espaço reflecte-
-se na ocupação de destaque na
fotografia. A inserção da figura do
colono na paisagem africana vem
sinalizar a possibilidade da sua
ocupação e habitabilidade graças
à modernidade introduzida pelo
regime colonial e onde se poderia
prosperar.
Aqui juntam-se dois elementos
importantes na valorização da fo-
tografia como instrumento de
perpetuação de uma imagem ou
de um momento que veicula uma
Fig. 3 -
Paisagem commancha de vegetação (1963). BCGP
XVIII (72): 627
Fig. 5 -
Pavimento duma rua com buracos onde se
encontram A. Gambiae, contudo em segundo plano está
patente uma construção colonial que se impõe na paisagem
(1962). BCGP XVII (65): 133.
Fig.4 -
Armadilha de Harris colocada num local de
existência de Glossina palpalis (1950). BCGPV (17): 65
Fig. 6 -
Enfermaria da Missão de estudo e Combate da
Doença do Sono (1949). BCGP IV(16): 764.
Artigo Original