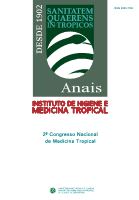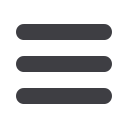

15
A n a i s d o I HM T
século XVIII, numa base de quase exclusividade religiosa.
É o Iluminismo que introduz no mapa genético europeu um
novo elemento de reconhecimento identitário: a ciência e a téc-
nica. Esta nova matriz começa por exercer-se no espaço da pró-
pria tradição europeia, confrontando o espaço do iluminismo do
centro da Europa com as regiões periféricas do Sul e do Este,
onde a razão, a ciência e a tecnologia tardavam a chegar.A linha
divisória opunha a anterior medida religiosa cristã à nova religião
da ciência e da técnica. É neste sentido que as viagens de intelec-
tuais ingleses, alemães e franceses a países como a Espanha, Por-
tugal ou Hungria são descritas como confrontos entre o mundo
civilizado e territórios exóticos ainda presos no obscurantismo
religioso. Voltaire não deixa dúvidas quando, ao aproximar-se
de Espanha, descreve as terras de domínio da Inquisição, onde o
cheiro bárbaro das fogueiras a arder nos autos-de-fé teimava em
fazer-se, ainda, sentir [13].
Fora da Europa, o encontro com o “outro”, com o “selvagem”,
com o “bárbaro”, passa a reger-se, também, pela lógica do Ilumi-
nismo.A medida civilizacional transfere-se da esfera do sagrado
para o mundo profano e material da ciência e da técnica. O mis-
sionário é substituído, primeiro pelo explorador e, depois, no sé-
culo XIX, pelo engenheiro e pelo médico. Os relatos das viagens
de exploração, embora possam incluir passagens de deslumbra-
mento perante a flora, a fauna, as doenças e os grupos humanos
desconhecidos, são, antes de tudo, descrições precisas das zonas
exploradas. A ideia romântica do explorador como aventureiro
intrépido pertence muito mais a Hollywood do que à realidade
histórica: embora, naturalmente, nele houvesse uma parcela de
coragem para afrontar o desconhecido, o explorador do século
XVIII é, essencialmente, um anotador do que vê: espaços, gen-
tes, plantas e animais.
Investigar e inventariar é o centro das missões realizadas às ter-
ras longínquas dos impérios europeus, em África, na Ásia e na
América, embora, paradoxalmente, o explorador fosse, frequen-
temente, assaltado pelo êxtase perante as paisagens avassaladoras
ou a miríade de cores e sons dos animais e das plantas [14]. Esta
fina fronteira entre a visão do sublime
6
e a capacidade de des-
crever de forma objectiva as novas experiências, conjuntamente
com o facto da ordenação da realidade ser sempre feita de um
ponto de vista necessariamente eurocêntrico, fazem da viagem
de exploração um verdadeiro laboratório de reflexão sobre o
papel da viagem na formação dos corpos cognitivos científico,
tecnológico e médico.
No século XIX, sob o signo da Revolução Industrial, surgem no-
vos valores, emanados da lógica e ética capitalistas e do conceito
saint-simoniano de progresso baseado no triângulo ciência-tec-
nologia-progresso.
Nos territórios coloniais, a relação com o “outro”, bem como
a exploração dos recursos à luz de uma lógica imperial euro-
peia, torna-se claramente tecnocientífica. A
mission civilizatrice
tem como elemento axial a integração dos povos colonizados, o
“outro”, na matriz civilizacional europeia, organizada em torno
dos saberes e das práticas de ciência da tecnologia e da medicina.
Trata-se de um poderoso mecanismo de dominação e de contro-
lo, que implica, seja por imposição, difusão ou apropriação, uma
assimilação de uma cultura exterior que se considera superior,
civilizando o indígena e convertendo-o num cidadão europeu.
Tal como acontecera durante o período inicial da expansão eu-
ropeia, o efeito da missão civilizadora varia na sua geometria e
eficácia em função das características das culturas autóctones.No
Japão da dinastia Meiji a apropriação da tecnologia europeia foi
ummovimento liderado pelo próprio estado que apresentou esta
absorção das competências técnicas europeias como uma forma
de sustentar um futuro domínio japonês na Ásia. No caso da Ín-
dia, e apesar da forte integração de largas comunidades de técni-
cos indianos no processo de construção de infra-estruturas [15],
bem como da comunidade médica no processo de substituição
da medicina tradicional, o processo de imposição da mundivi-
dência europeia de modernidade tecnocientífica e médica gerou
um fortíssimo antagonismo [16]. No Norte de África, os vários
poderes locais opuseram-se militarmente, e em casos pontuais
com sucesso, à “invasão” europeia.
Quando olhamos para a África Negra, a situação é totalmente
diferente. A multiplicidade de grupos e culturas por um lado,
e, por outro, na perspectiva europeia, o seu baixo índice técni-
co, levou a um clima quase sempre de imposição desregulada da
cultura europeia, caracterizado pela exibição da sua superiorida-
de técnica.Trata-se de um espaço de exótico, de barbárie, que
justificava os famosos jardins zoológicos humanos e a presença
de indígenas africanos em exposições coloniais europeias [17].
Civilizar os nativos, torná-los aptos para se transformarem em
cidadãos europeizados, era a base da componente ideológica
da missão civilizadora; em termos operativos, o comboio
assumiu-se como a peça fundamental na construção desta
1
Esta troca de palavra entre Laplace, Napoleão e Lagrange, bem como os
termos exactos eventualmente usados é hoje debatida. Contudo, mesmo
que a consideremos apócrifa, o facto de ter sido atribuída a Laplace dá
conta do
esprit du temps
sobre esta matéria.
2
A “dependence theory” defende que a assimetria na distribuição de rique-
za mundial é perpetuada pelo próprio sistema mundial, não tendo, pois,
todas as sociedades as mesmas possibilidades de desenvolvimento. Cf. os
artigos seminais de 1949 da chamada tese Prebisch–Singer (PST): Hans
Singer,
Post-War Relations between Under-developed and Industrialized
Countries
, Nova Iorque: United Nations, 1949; Raúl Prebisch,
El desar-
rollo económico de la América Latina y algunos de sus principales proble-
mas
, Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina, 1949.
3
Os
Subaltern Studies
têm como líder Ranajit Guha mas incluem uma lon-
ga lista de nomes como, por exemplo, David Arnold. Propõem uma análise
baseada no conceito de Antonio Gramsci’s de “subalterno.”
4
Os Postcolonial Studies centram-se na construção das identidades pós-
-colonais. Alguns dos investigadores mais representativos são: Frantz Fa-
non (colonialismo como fonte d evidência física e mental), Edward Saïd
(o conceito de orientalismo e as representações estereotipadas dos não
ocidentais pelos ocidentais) e Dipesh Chakrabarty (conceito de provincia-
lização da Europa, a que já nos referimos).
5
Exemplo de reapreciação crítica deste modelo e de exploração de alterna-
tivas historiográficas é o volume temático ‘Nature and Empire’, Osiris 15,
ed. Roy MacLeod (2005).
6
Usamos aqui o conceito de sublime no sentido clássico do termo, tal como
é definido por Edmund Burke em A Philosophical enquiry into the ori-
gins of our ideas of the sublime and the beautiful (1758) (e retomado por
Kant, Diderot e os românticos), significando um fenómeno maravilhoso,
surpreendente, inspirador, capaz de “lift up the soul”. Quando aplicado à
natureza pressupõe uma paisagem cuja imponência ultrapassa a capaci-
dade humana de intervenção e motiva, por tal, simultaneamente, o medo
e o fascínio. Quando do terramoto de 1755, em Lisboa, a fúria das forças
sísmicas foi descrita, precisamente, como sublime.