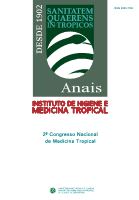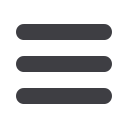

14
1. Medicina e Império
O presente texto pretende introduzir o tema deste pequeno
curso num contexto teórico mais vasto que, seguindo as gran-
des tendências internacionais, reconhece o importante papel da
ciência, tecnologia e medicina na construção da Europa colonial
dos séculos XIX e XX.
O nosso objectivo é propor-vos, por um lado, olhar para a apro-
priação dos territórios imperiais através de uma lente focada
na ciência, na tecnologia e na medicina, e, por outro, perceber
como é que este tipo de saberes e práticas foram reutilizados nas
metrópoles, num processo dual de europeização do mundo e
provincialização da Europa [1, 2].
O ponto de partida é o reconhecimento de que a Europa tem
uma estrutura técnico-científica, que faz parte integrante da
sua própria identidade. Essa visão de mundo baseada na trilogia
ciência-tecnologia-progresso surgiu no Renascimento e incorpo-
rou definitivamente o DNA do pensamento europeu no século
XVIII, no período do Iluminismo, construindo uma visão de um
mundo quantitativo e quantificável, compreendido e dominado
através de fórmulas matemáticas.As palavras,mesmo que apócri-
fas, atribuídas a Laplace quando apresentou o
Traité du Mécanique
Céleste
(1799-1825) a Napoleão e foi por ele questionado sobre
o não ter referido Deus na sua argumentação, são bem exem-
plificativas da mundividência das Luzes: “Je n’avais pas besoin de
cette hypothèse-là.” Mais tarde, a propósito do comentário de
Lagrange a estas palavras, Laplace reforça a sua visão de uma ci-
ência de predição: “Cette hypothèse, Sire, explique en effet tout,
mais ne permet de prédire rien. En tant que savant, je me dois de
vous fournir des travaux permettant des prédictions”
1
.
Esta omnipresença da ciência e da tecnologia na matriz cogniti-
va e operativa é evidente, em primeiro lugar, dentro do próprio
espaço europeu e, posteriormente, nos contactos estabelecidos
com o resto do mundo.A própria definição da Europa incorpora
estes elementos. O termo “Europa” foi cunhado pelo historiador
grego clássico Heródoto como uma referência geográfica para
definir uma das três partes do mundo (as outros eram a Ásia e a
Líbia/África); o seu uso na Idade Média incorporou uma dimen-
são religiosa, a das terras da cristandade, em parte definida por
contraste com o império islâmico, então a maior ameaça exte-
rior. O século XV refez o conceito de Europa a partir dos novos
estados-nação.A outrora Europa feudal fechada abriu-se ao exte-
rior e projectou-se para a expansão ultramarina.
A descoberta da “fronteira marítima” modificou profundamente
o lugar da Europa no mundo, tanto em termos reais, como na
percepção que os europeus tinham de si próprios, colocando-
-a no centro de uma nova grelha civilizacional, com o resto do
mundo hierarquicamente num plano inferior.Trata-se, verdadei-
ramente, da construção de uma nova episteme que se pretende
planetária.
Em termos teóricos, esta nova fase é particularmente bem anali-
sada no plano económico com o célebre modelo da teoria mun-
do de Immanuel Wallerstein [3], que se baseia no conceito de
sistema global (ummundo articulado por trocas económicas em
regime de concorrência, num equilíbrio sempre ameaçado por
fricções), na dimensão da longa duração
braudeliana (
a
longue-du-
rée
da
École dos Annales)
[4] e de macro-escala. O sistema-mundo
refere-se, portanto, à divisão inter-regional e transnacional do
trabalho, que divide o mundo em países centrais, países semi-
-periféricos e países da periferia. Os países centrais acumulam
o
expertise
e o capital, enquanto as semiperiferias e as periferias,
com índices de competências inferiores, se baseiam no trabalho
intensivo e extracção de matérias-primas, o que reforça cons-
tantemente o domínio dos países do núcleo. Numa outra pers-
pectiva, mas focando o mesmo problema de uma hierarquia de
organização mundial, a teoria da dependência
2
analisa o mesmo
problema,mas centrando-se nos estados nação.Ambos estes mo-
delos se relacionam profundamente com o modelo difusionista
de George Basalla [5], em que a ciência e a tecnologia europeias
alastram progressivamente do(s) centro(s) para as periferias, al-
cançando nestas, num último estádio, uma eventual autonomia.
Hoje a tese de Bassala é largamente questionada por alternativas
muito estimulantes, como o conceito de apropriação, que intro-
duz uma dinâmica que vai muito além da noção de alastramento
progressivo [6,7], as contribuições conceptuais e metodológicas
dos
Subaltern Studies
3
, dos
Postcolonial Studies
4
e da
New Imperial
History
[8], com noções como
contact zone
,
go-betweens
e
interna-
tional junctions and sites
[9, 10, 11], e a noção de
creole technology
[12]
5
.
Com o comércio de longa distância, o colonialismo, o imperia-
lismo e o início da globalização, surgiu um novo significado para
o conceito de Europa que passa a espelhar-se fora do seu espaço
geográfico tradicional e a percepcionar-se como uma categoria
eminentemente civilizacional. No seu cerne estão a ciência, a
tecnologia e a medicina, usadas para observar, explicar, avaliar
e dominar a natureza. O mundo deixa de ser, definitivamente,
um lugar governado pela vontade de Deus, para se tornar uma
máquina hierarquizada e matematizada, organizada e governada
pelos homens. O argumento filosófico de Laplace ganha, no sé-
culo XIX, um novo significado, pleno de materialidade.
Assim, o contacto europeu com o “outro”, ou seja a delimitação
das fronteiras da Europa, que, durante séculos, fora construído
em torno do conceito de cristandade, passa a ser mediado pela
racionalidade tecnocientífica.
A Europa começou por se fechar sobre si própria, na Idade Mé-
dia, como defesa face ao inimigo islâmico; o movimento das
cruzadas, nos séculos XII e XIII, resultou da vontade de repor
a cidade santa de Jerusalém emmãos cristãs; a partir do século
XV, a expansão dos vários países europeus, primeiro Portugal
e Espanha e, mais tarde, França, Inglaterra e Holanda, integra-
va a clara dimensão missionária de trazer para a fé cristã todos
os que nela não se integravam. Esta agenda de cristianização
do “outro” teve, claro, gradações diferentes que resultaram,
essencialmente, do grau de estruturação formal das religiões
autóctones, sendo mais eficaz em populações com crenças for-
malmente mais rarefeitas, como os índios do Brasil ou as tribos
da África negra. Contudo, independentemente da sua eficácia,
a definição dos contornos identitários europeus fez-se, até ao
Artigo Original