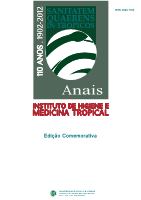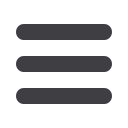

108
vão desde páginas mais ou menos reconhecidas, a
grupos de apoio ou sítios comercias de pertença
duvidosa? Genericamente, diríamos que o nível de
literacia que é exigido para “navegar” com sucesso
nos suportes digitais é, com certeza, ainda superior
ao que permitia distinguir, muitas vezes com muita
dificuldade, o que era informação, entretenimento
ou anúncios nos ecrãs das televisões. Escusamo-
nos, por agora, a discutir se a informação era
compreendida como pretendido…
Quando falamos de literacia em saúde, não nos
podemos esquecer também que uma das grandes
questões se prende com o facto de este não ser um
constructo simples, mas antes uma união de
diferentes outros aspetos que se deixam organizar
sob as designações de literacia: fundamental,
científica, cívica e cultural (Zarcadoolas e Greer,
2005; Zarcadoolas e Greer, 2006). De forma muito
rápida, temos que a literacia fundamental engloba
todos os aspetos que se prendem com o acesso à
leitura, à escrita e à capacidade de contar; a literacia
cultural, com os aspetos contextuais do indivíduo
em termos da sua sociedade ou grupo de pertença e
em como tudo isto é usado na interpretação que
fazem, no nosso caso, da informação relacionada
com a “saúde”. A questão da literacia cívica é o que
permite suprir uma outra dicotomia: a da saúde
pública e da saúde individual. Consideram-se
também, como literacia cívica, todas as questões
relacionadas com o acesso a informação mediada,
bem como a consciência que os indivíduos têm
sobre como as suas decisões individuais afetam a
saúde pública; não será com certeza necessário
referenciar a questão, já múltiplas vezes explanada,
do uso de preservativo algures no Pacífico não ser
somente uma questão clínica. O nível de
competência no que se refere a questões que se
prendem com as ciências naturais e a tecnologia faz
parte do que designamos como literacia científica,
englobando-se aqui todas as questões que tomamos
como pertencendo à linguagem médica.
Se é verdade que hoje a classe médica já
compreendeu que muitas vezes deverá tornar a sua
linguagem adequada aos seus
públicos
abandonando o jargão técnico parece não ter
entendido ainda que não é só a falta de literacia
científica que está em questão no contexto de uma
consulta. O “doente” que, no contexto específico
desta reflexão não o é, pelo menos em sentido
estrito, traz consigo, além de todas as suas
competências e algumas incapacidades, o seu
mundo, o seu contexto laboral e de diversão, a sua
família, a sua religião, os seus hábitos e costumes.
O papel que desempenhamna tomada de decisão
por parte destes cidadãos, sobre se deverão ou não
acatar as propostas do médico sobre a não ingestão
de água não engarrafada em países com surtos de
cólera, ou a ingestão diária de um determinado
fármaco visando a profilaxia da malária, todo o
conjunto de crenças, costumes e praticas que
podemos designar como a sua literacia cultural e,
em muitos casos, os baixos níveis de literacia
cívica, não são um problema menor em termos de
comunicação em contextos de saúde. Talvez estas
duas dimensões, que condicionam, de uma forma
subsumida, a literacia em saúde, e determinam,
tantas vezes, a ineficácia da promoção da saúde em
termos das consultas do viajante, expliquem, de
forma com certeza generalista e claramente
insuficiente, as dificuldades que encontramos ao
tentar explicar a um jovem que o risco de morrer –
se não tiver alguns cuidados mínimos em termos
alimentares em países onde a cólera é uma
realidade –, ou ao “veterano” das idas e
permanências em Angola que a malária continua a
ser um risco, mesmo para ele, a necessitar uma
profilaxia adequada.
Quando falamos em comunicação numa aceção
geral podemos perspetivar diversas abordagens,
mais ou menos centradas em aspetos da interação
face-a-face ou da comunicação mediada, questões
de foro mais ou menos psicológico, análises
linguísticas, discursivas ou conversacionais mais
ou menos esclarecedoras. Sendo o mote aqui a
Consulta do Viajante optou-se por olhar para
alguns dos seus problemas e constrangimentos, no
que à comunicação se refere, sob o olhar do
conceito de “literacia em saúde”, o único que tal
como a “Consulta do Viajante” nos permite superar
dicotomias nomeadamente a dicotomia Saúde
Pública / Saúde individual.
BIBLIOGRAFIA
ATKIN, C. K. (2001) – “Theory and Principles of Media Health
Campaigns”
.
Em
:
Hornik, Robert C
.
,
Public Communication
Campaigns
. 3ª edição. Sage Publications, ThousandOaks /California
(pp. 49-68).
CENTERFORDISEASE CONTROL AND PREVENTION(2006)–
“What
is
Health
Communication?”.
[
online
].
http://www.cdc.gov/healthmarketing/whatishm.htm. Acedidoem29
janeiro 2011.
COFFMAN, J. (2002) – “Public communication campaignevaluation:
An environmental scan of challenges, criticisms, practice, and
opportunities". Harvard Family Research Project. [
online
].
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6387698. Acedido em 16 jan
2011.
EIRÓ-GOMES, M. (2005) - “Comunicação em Saúde”. Artigo não
publicado. Médicos do Mundo, Lisboa.