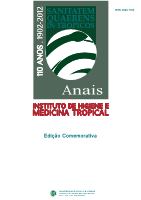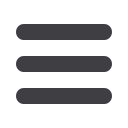

106
CONSULTA DO VIAJANTE, OU ONDE A COMUNICAÇÃO PARA A SAÚDE SE
ENCONTRA COM A COMUNICAÇÃO “NA” SAÚDE
MAFALDA EIRÓ-GOMES *
JORGE ATOUGUIA **
* Escola Superior de Comunicação Social, Instituto Politécnico de Lisboa.
** Unidade de Ensino e Investigação de Clínica das Doenças Tropicais, Instituto de Higiene e Medicina
Tropical, Universidade Nova de Lisboa.
:
JMA@ihmt.unl.pt.Seek first to understand, then to be understood
Stephen Covey
No nosso quotidiano, e também, infelizmente,
nas nossas práticas científicas, parece que
continuamos reféns de todo um conjunto de
dicotomias que caracterizaram o pensamento e os
escritos de muitos dos que trabalharam nos séculos
que nos precederam. Atente-se na dicotomia
saúde/doença. Parece muito mais aceitável e
representativo da realidade pensarmos as noções de
saúde e doença como pontos de um mesmo
contínuo. Sabemos contudo que tal não é o caso.
Depois de deixarmos as consultas de saúde
infantil quantos de nós nos dirigimos ao
consultório de um médico porque nos sentimos
bem? Dir-se-ia que – e sem quaisquer pretensões
de exatidão científica – há, contudo, uma consulta
que parece não se deixar encaixar nesta
generalização: a consulta do viajante.
A “consulta do viajante” é a exceção que
confirma a regra. Em geral, quando nos dirigimos
a uma consulta desta natureza, estamos ótimos,
muitas vezes felizes, pensando nas férias que se
avizinham ou nos novos desafios profissionais num
país longínquo. A questão que deixamos aqui para
reflexão é se para os médicos esta também é uma
evidência. Quantas vezes pararam para pensar que
a pessoa que se encontra à vossa frente não é um
“doente”? Como será que o médico, no contexto de
uma consulta do viajante, na sua prática clinica, vê
o “não” doente? As dificuldades na interação
inerentes a uma assimetria intrínseca a qualquer
consulta, a do “face-a-face” entre um perito e um
não perito, são aqui, de algum modo, ainda mais
acentuadas, pelo desconhecimento que temos sobre
as expectativas, neste caso específico, desta prática
clínica.
Até que ponto é a linguagem que usamos
representativa das nossas disposições e até onde
uma mudança ao nível da linguagem permite uma
mudança ao nível das atitudes e dos
comportamentos? É fundamental, também aqui,
perceber que dicotomias como comunicar
versus
agir não fazem qualquer sentido. A comunicação é,
também ela, parte de uma teoria da ação e como tal
deve ser entendida. Dizer que alguém é um(a)
doente não é uma mera questão de designação mas
claramente o aceitar que a característica
fundamental daquela pessoa é – naquele momento
pelo menos – ser um doente. São situações deste
tipo que têm sido consideradas como fundamentais
para a alteração, mesmo que a longo prazo, das
atitudes e comportamentos tanto dos que se
dirigem a uma consulta do viajante, como dos que
a ela não se dirigem porque “não estão doentes”,
como de todos os interlocutores que, com
responsabilidades acrescidas pelo papel que
desempenhamna sociedade – operadores e agentes
turísticos, grandes empresas empregadoras em
países africanos ou do sudoeste asiático, por
exemplo –, se esquecem de a mencionar junto dos
seus públicos finais porque a sua sugestão poderá
ser por estes mal entendida.
É habitual, quando tentamos adaptar para
Portugal a noção de
health communication
,
centrarmo-nos exclusivamente na comunicação
para a saúde e não, em geral, na área designada
“comunicação
na
saúde”
ou,
também,
“comunicação em contextos de saúde/doença”
(
healthcare contexts
) (Eiró-Gomes, 2005).
Provocar uma mudança é sempre o grande objetivo
da comunicação para a saúde, seja para promover
um comportamento saudável ou para alterar um
comportamento não saudável. Quando falamos em
comunicação na saúde, várias outras rubricas
podem ser objeto de reflexão, embora o foco
principal seja normalmente a relação entre o
paciente (e a escolha da palavra não é aqui
inocente) e o prestador de saúde. Também aqui a
consulta do viajante desafia as dicotomias que
assumimos, tantas vezes, sem reflexão. Este é
claramente um contexto de saúde/doença, mas cujo