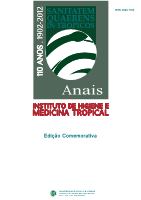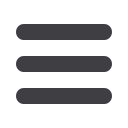

127
importa reconhecer que também as condições no
país de origem, durante o percurso migratório ou
no país de acolhimento, podem expor o indivíduo a
situações de risco para a saúde (Kristiansen
et al.
,
2007). Um estudo realizado em Portugal com
grupos focais de mulheres imigrantes africanas e
brasileiras sobre a temática da saúde sexual e
reprodutiva revelou que, muitas vezes, as
populações imigrantes encontram dificuldades no
país de acolhimento inerentes à própria situação de
imigrante, como condições precárias de vida e de
emprego, situações de discriminação e o
stress
associado a estas experiências (Dias e Rocha,
2009). Como relatado pelas participantes, este
contexto afeta a saúde individual, tornando as
mulheres particularmente vulneráveis durante o
período de gravidez e pós-parto, com implicações
para a saúde da mãe e do bebé (Dias e Rocha,
2009).
A associação entre imigração e vulnerabilidade
em saúde está também fortemente relacionada com
o acesso e utilização dos serviços de saúde
(Gonçalves
et al.
, 2003; WHO, 2010). O acesso e
utilização dos serviços pelos imigrantes são aspetos
importantes para diminuição da morbilidade nestas
populações e, em última análise, para boa
integração no país de acolhimento (Ingleby
et al.
,
2005; Kristiansen
et al.
, 2007). Dada a crescente
intensidade
dos
fluxos
migratórios,
a
heterogeneidade das populações imigrantes, a sua
importância demográfica e a evidência das suas
necessidades em saúde, a gestão da saúde e
promoção do bem-estar destas comunidades
implicam que os sistemas de saúde respondam
adequadamente aos diversos desafios que o
fenómeno migratório coloca, nomeadamente no
que se refere à disponibilidade, acessibilidade e
qualidade dos serviços prestados (WHO, 2010). De
facto, numa perspetiva de saúde pública, o impacto
dos fluxos migratórios coloca-se ao nível da saúde
das populações, mas também ao nível da pressão
exercida por este fenómeno nas dinâmicas dos
serviços de saúde.
Apesar do reconhecimento do direito à saúde
como um direito fundamental de todos os
indivíduos, constata-se que, em vários países
desenvolvidos recetores de imigrantes, estas
populações tendem, muitas vezes, a não beneficiar
de todos os serviços de saúde disponíveis e a não
serem efetivamente abrangidas pelos sistemas de
saúde ao nível da prevenção e tratamento da doença
e promoção e proteção da saúde (Quan
et al.
, 2006;
WHO, 2010). Vários estudos indicam que, quando
comparados com a população autóctone, alguns
grupos da população imigrante apresentam
menores índices de utilização dos serviços de saúde
(Norredam
et al.
, 2004; Quan
et al.
, 2006). Vários
autores sugerem que estas populações encontram
diversas dificuldades quando tentam aceder ou
utilizam estes serviços (Dias
et al.
, 2008;
Scheppers
et al.
, 2006). Num contexto de
subutilização de serviços, os cuidados de saúde
tendem a ser prestados tardiamente, com potencial
impacto na eficácia dos tratamentos realizados, nos
custos dos cuidados prestados e na satisfação dos
utentes. Em várias situações, os imigrantes tendem
a recorrer à automedicação, a pessoal não
especializado da comunidade ou à medicina
tradicional, o que pode remeter para situações de
risco potencial para a sua saúde
(Gonçalves
et al.
,
2003). Esta evidência tem levado a um crescente
interesse crescente da investigação na área da
procura de cuidados de saúde, do acesso e da
utilização dos serviços pelos imigrantes.
Em Portugal, o direito à saúde de todos os
cidadãos está consagrado na Constituição da
República Portuguesa e, desde 2001, assume-se o
princípio do acesso universal aos cuidados de
saúde por parte dos imigrantes, independentemente
do seu estatuto administrativo (Despacho n.º
25.360/2001, Diário da República, II Série, n.º 286,
de 12 de dezembro de 2001). No entanto, apesar
desta garantia legal, constata-se a existência de
dificuldades no acesso e utilização dos serviços de
saúde em alguns grupos de imigrantes (Dias
et al.
,
2008; Machado
et al.
, 2006).
Em termos conceptuais, a noção de “acesso” aos
cuidados de saúde é multidimensional, englobando
o direito de um indivíduo utilizar os serviços, a sua
capacidade para os utilizar e a eficácia e adequação
dos cuidados prestados (Ingleby
et al.
, 2005). O
conceito de “utilização” refere-se ao uso da oferta
de serviços num determinado espaço temporal
(Travassos e Martins, 2004). O modelo explicativo
do acesso à saúde desenvolvido por Andersen em
1968 -
Behavioral Model of Health Services Use
-
conceptualiza o acesso e utilização dos serviços de
saúde nas seguintes dimensões: a) contexto das
políticas de saúde (financiamento, recursos
humanos e organização do sistema de saúde), b)
características do sistema de saúde (distribuição
geográfica, cobertura, organização e estrutura dos
serviços), c) características das populações, d)
resultados em termos de utilização dos serviços e
satisfação dos utentes (Andersen, 1968). Numa
revisão deste modelo por Andersen, em 1995, o
conceito de acesso à saúde tornou-se mais
abrangente, distinguindo-se
entre
“acesso
potencial”, isto é, os recursos de saúde disponíveis
e a capacidade para os utilizar, e “acesso real”, que